Literatura
Por
Pedro Henrique Alves, especial para a Gazeta do Povo
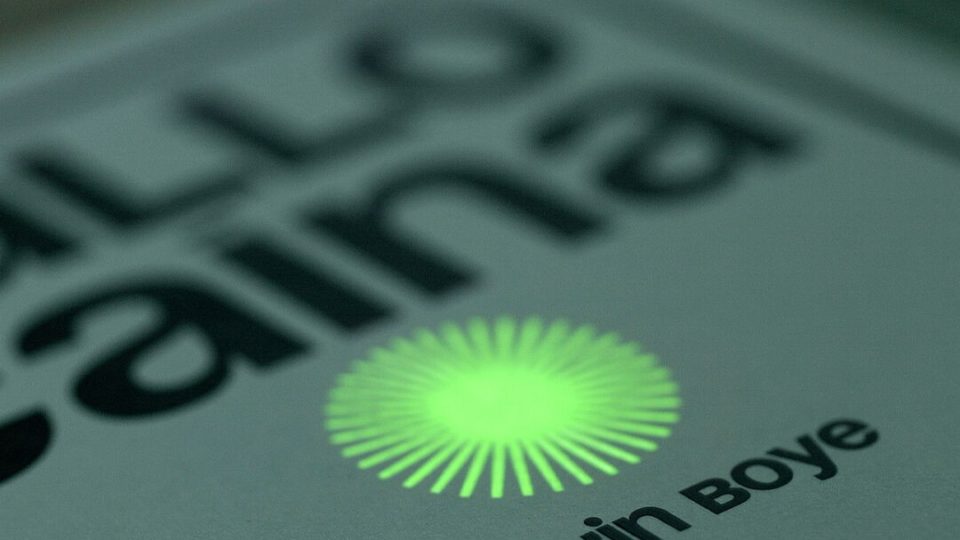
Capa do livro Kallocaína, da editora Carambaia: romance distópico que inspirou Orwell| Foto: Divulgação
Há livros primorosos que se perdem na imensidão prolixa de editoras e autores que buscam sucesso, fama e reconhecimento mais ou menos instantâneos. E, sinceramente, não há nada de errado em editoras buscarem lucros imediatos, afinal, fazer livros é algo caro. Porém, nesse processo acelerado, algumas riquezas literárias passam batidas ou são tão somente esquecidas. Resta, então, aos leitores arregaçarem as mangas e iniciarem uma verdadeira escavação arcoliterária em sebos e grupos de trocas de livros nas redes sociais. Não à toa, os sebos são, para mim, uma catedral de humanidade antes de serem um mercado livreiro. Há uma sacralidade naquele local abarrotado de livros. Aquele cheiro de mofo misturado à degradação das páginas são os incensos da liturgia civilizacional.
Uma dessas excelentes obras esquecidas nesses monastérios empoeirados dos livros é ‘Kallocaína’, livro que encontrei aleatoriamente em uma entrada casual num sebo no centro de São José dos Campos, no estado de São Paulo. Após lê-la de uma tacada só, julgo que seja a distopia mais aterrorizante que li em toda a minha vida ‒ falo isso sem nenhum preciosismo, exagero ou financiamento da editora responsável pela obra. Aquela escavação me rendeu uma riqueza inestimável, insights poderosos para minhas análises políticas.
Apoiada em ‘Admirável Mundo Novo’, de Aldous Huxley, e inspirando ‘1984’, de George Orwell, Karin Boye escreveu uma das distopias mais desconhecidas nessas bandas tupiniquins, mas também uma das mais marcantes e assustadoras que a literatura do século XX produziu. Em tempos de busca histérica por representatividade feminina na literatura, devemos nos perguntar por que Boye, uma lésbica formada no seio socialista francês, foi tão confortável e convenientemente esquecida pelas progressistas da justiça social e vaginal contemporânea. Tal livro já havia sido lançado aqui no Brasil pela Editora Americana, em 1974, com a tradução de Janer Cristaldo. No entanto a obra estava esgotada e sem previsões de nova edição até a providencial reedição da Carambaia, de 2019, com a magnífica tradução de Fernanda Sarmatz Åkesson.
A autora dessa distopia empoeirada é a desconhecida poeta Karin Boye, sueca, nascida em 1900, em Gotemburgo. Filha de um engenheiro e uma dona de casa de ascendência alemã, Karin se interessou desde a mais tenra idade pela literatura e pela política. Sua casa sempre foi um ambiente de liberdade e religiosidade protestante, e da mesma forma que crescia entre as palavras de Cristo, também tinha plena liberdade para ler as prosas de Nietzsche e as doutrinas comunistas de Marx.
No início da adolescência, porém, em uma inesperada virada de postura do pai, Boye foi enviada para um internato escolar religioso onde a liberdade de pensamento não era mais tão bem-vinda assim. Na juventude, agora já na universidade de Uppsala, uniu-se ao grupo comunista Clarté, encabeçado pelo escritor francês Hanri Barbusse. Apesar do grupo se intitular como “antipartidário” e “social-democrata”, além recusar o título de “comunista” ‒ pois as mazelas econômicas e fedores genocidas advindos da Rússia já começavam a se espalhar pela Europa ‒, a verdade é que o grupo endossava sim a revolução leninista e apoiava em silêncio a URSS.
Na época, além das poesias que havia publicado, em 1922, sob o nome de ‘Moln’ [Nuvens], ela também escrevia regularmente para revistas e jornais socialistas como o Social-Demokraten e o Arbetet, assinando, inclusive, os seus editoriais e demais críticas ao fascismo nascente e aos liberais suecos. Em 1928, a poeta tem a oportunidade de viajar para URSS a fim de contemplar o comunismo em ação, e lá, para seu total espanto, encontra uma das maiores decepções de sua vida: o comunismo tal como ele é. A supressão extrema das liberdades individuais e o sistema de vigilância individual ‒ comumente baseado na delação compulsória e no pânico generalizado ‒ foram observados por ela ao vivo, o que a deixou aterrorizada e decepcionada.
De volta à Suécia, em silêncio, já havia decidido abandonar o comunismo e o Clarté ‒ o que vai efetivamente ocorrer, todavia, somente em 1930. Não demorou muito para que suas poesias e artigos começassem a aparecer em periódicos liberais da Suécia e da França. Junto a Erik Mesterton e Josef Riwkin, ela até mesmo chegou a fundar a Spektrum, uma revista dedicada à poesia. A publicação, entre outros méritos públicos e acadêmicos, foi a responsável por introduzir o mundo literário sueco ao poeta conservador T. S. Eliot ‒ que seria impossível de ser visto ombreando as ideias de Boye até alguns anos antes.
A poeta sueca, todavia, viveu em uma constante briga interna com suas ideias e sexualidade. Foi casada com o ex-companheiro de Clarté, Leif Björk, sustentando até onde foi possível um casamento frustrante e infeliz. Em busca de paz, na década de 1930 foi a Berlim se tratar com a nova e promissora psicanálise. Lá conheceu Margot Hanel, com quem teve um relacionamento também conturbado. Por volta de 1930, ela se assumiu lésbica para amigos próximos, o que, logo após, se tornou um fato notório para todo o país.
Além de seus problemas amorosos e decepções políticas, a ascensão de Hitler só piorou sua situação. Podemos imaginar que a atmosfera caótica que gestou Hitler na Alemanha tenha acentuado a sua depressão da alma e da mente, e, aliado ao vazio de propósito deixado pela decepção com a ideologia comunista de outrora, a poeta estava à deriva e angustiada. Constantemente ela descreveu a amigos e para seu editor a sensação de abafamento moral e de amputações políticas cada vez mais agressivas às liberdades individuais na Europa, o que a deixava profundamente perturbada.
Foi com tal sentimento em voga que ela escreveu, em 1940, ‘Kallocaína’, obra que ela mesma caracterizou como “assustadora e macabra”, prometendo a seu editor “jamais escrever algo tão macabro assim” novamente ‒ promessa que, de fato, cumpriu.
A trama do romance distópico se passa num Estado totalitário denominado pelo Estado Mundial — tal nome já mostra a confecção política que a obra visava destrinchar. O texto é uma narrativa em primeira pessoa, que acontece através das anotações de Leo Kall, um cientista do Estado Mundial que desenvolveu uma droga, a kallocaína, que tem a proeza de fazer com que os seu usuários se tornem extremamente verdadeiros, sem travas e freios morais para dizerem o que realmente sentem, fazem, pensam e projetam.
Durante os testes de sua droga em cidadãos voluntários, alguns deles fervorosos entusiastas do Estado Mundial, Kall percebe que as verdades destravadas por sua droga mostravam, ao contrário do que ele sempre foi ensinado, que existia uma liberdade individual soterrada pela vigilância, doutrina e armas do Estado. O slogan vocalizado constantemente pelo cientista e demais cidadãos do Estado Mundial era: “Sabemos que o Estado é tudo, e o indivíduo é nada”. Mas quando as pessoas realmente podiam falar o que pensavam e sentiam, mostrava-se uma camada ideológica de abafamento da consciência, uma lona negra e pesada que aprisionava os indivíduos numa realidade moralmente claustrofóbica, um sequestro compulsório e massivo da personalidade e da individualidade dos homens. O totalitarismo do Estado Mundial é um totalitarismo maduro e sofisticado — e eis aqui um dos maiores trunfos da obra —, ele não mais aprisiona seus cidadãos com grilhões de ferro e em porões fétidos em lugares longínquos, mas o faz pelo medo, coerção psicológica, jogos linguísticos e pela incessante e asfixiante vigilância moral.
A genialidade da obra está em mostrar ‒ e fazer sentir ‒ o abafamento claustrofóbico do totalitarismo, não somente em seu caráter público, mas também no caráter psicológico e moral de cada indivíduo. Nas palavras de Oscar Nesterez, posfaciador da obra relançada pela Carambaia: “Durante a leitura do relato […], tem-se a impressão de que as paredes ao redor estão se aproximando, de que o oxigênio começa a rarear”.
Os embates psicológicos que Leo Kall tem consigo mesmo são poderosos e profundos, fica claro que a escrita de Kallocaína só poderia ter saído de uma alma que se sentia também aprisionada, frustrada, traída, que, ainda que consciente da realidade de uma liberdade inata ao seu ser, não conseguia usufruir do seu frescor e do bater das suas asas. Assim se sentia a poeta sueca: apesar de conhecer a possibilidade da autonomia, parecia que estar cada vez mais longe dela.
Na narrativa, Kall desencadeia então uma série de diálogos psicológicos memoráveis, os fez na autocensura às suas tentações de ser um pouco livre à revelia das regras do Estado. “De onde vinha esse infeliz questionamento dentro do meu ser”?, pergunta diante da desconfiança de traição de sua esposa, e das inumeráveis tentativas frustradas de torná-la sensível e emocional às suas descobertas ‒ emoções são traições à geométrica perfeição da ideologia do Estado.
Talvez o diálogo mais marcante da obra seja a descoberta “imoral” do cientista de que há uma consciência pessoal no homem, de uma espécie de brisa inata de liberdade que brota naturalmente dos indivíduos. Aliás, essa descoberta de que realmente há “indivíduos”, que tal termo não é fruto de um obscurantismo reacionário ou de uma turba de atrasados políticos ‒ aqueles que, na obra, são retratados como os “viajantes rejeitados do deserto” ‒ é o que sempre rompe o último selo do conformismo psicológico dos que se revoltam contra tiranias. O homem não é massa, o homem é indivíduo.
A narrativa se faz instigante e ativa pelas constantes rupturas de expectativa que ocorrem abruptamente ‒ ainda que ao ler estejamos constantemente esperando por essas ocasiões. Fato é que elas são impossíveis de ser previstas, a cada página virada uma expectativa se renova.
Ao descobrir que a realidade pode ser mais do que aquilo que o Estado mostra, que há uma liberdade feita manancial em cada pessoa, Kall não explode imediatamente em busca de revoluções ou protestos, como diria o poeta português Valter Hugo Mãe em ‘O filho de mil homens’: “para dentro do homem o homem cai”. E Kall caía para dentro de si em reflexões, desesperos, planos e filosofias. A cada descoberta, a realidade, para além das cortinas ideológicas do Estado, convidava-o para fora daqueles muros subterrâneos. E pararei a descrição da trama por aqui, a fim de não dar mais spoilers.
Como já adiantamos, não parece ser mera coincidência do destino literário a kallocaína nos lembrar do soma de ‘Admirável Mundo Novo’, muito menos o caráter desbravador de Winston Smith, de ‘1984’, casar-se perfeitamente com os temperamentos e trejeitos de Leo Kall. O que a sueca faz de diferente dos demais autores de distopias de seu tempo, entretanto, é destrinchar os caminhos internos da consciência dos prisioneiros do totalitarismo. Aquilo que Alexander Soljenítsin fez em um relato autobiográfico no primoroso e assustador ‘Arquipélogo Gulag’, Karin Boye fez em forma de romance, não menos primoroso, em ‘Kallocaína’. Em ambos os relatos, temos indivíduos que, aos poucos, despertam da ilusão asfixiante de uma ideologia igualitarista e, tomando consciência da caixa que os aperta em mentiras políticas e psicologias ditatoriais, tentam encontrar uma viela para libertação.
A descoberta verdadeiramente angustiante de que aquilo que sempre se acreditou ser a verdade indiscutível na verdade não passa de produtos enganosos de déspotas e acadêmicos encastelados. A vertigem que dá ao notarmos que a abnegação de nossa obediência às normas era, antes de mais nada, o virar da chave que nos trancava em nossas celas psicológicas… Pois bem, eis o que Bye trata com maestria absurda em ‘Kallocaína’. Com essa obra, Boye se torna, para mim, uma das mais competentes apologistas da maturidade de consciência, talvez uma das mais habilidosas defensoras da sanidade política da literatura mundial.
Kallocaína foi lançada originalmente em 1940 ‒ como já dito anteriormente ‒, e Boye se suicidou apenas um ano após, em 24 de abril de 1941, ingerindo uma quantidade cavalar de remédios para dormir. Obviamente, como é notável, jamais se recuperou da depressão causada pelos embates de sua alma e do assombro político que a cercava.
Assim sendo, parece-me que a obra resenhada foi mais que um romance, talvez guarde a sua característica de autobiografia. O impressionante é o fato de que a realidade que figurava na alma da poeta mostrou de forma crua e profunda o que cá fora passaríamos com as ditaduras que ensanguentaram o planeta. ‘Kallocaína’ foi composta para pessoas que buscam a maturidade política e mental; ela foi escrita para aqueles que querem entender o que uma ideologia totalitária pode engendrar em uma alma imatura, para mostrar quantas marcas indeléveis ela pode cravar em nossas consciências.
Infelizmente, a obra encontra-se esgotada, o que já era esperado, já que a editora Carambaia lançou-a sob o selo “limitada” — edições que já nascem com a certeza que acabarão e dificilmente serão reimpressas, pelo menos não tão cedo. Minha edição é a de número 689 de uma tiragem de 1.000. Obviamente a obra já começa a figurar naqueles preços exorbitantes de “obras sumidas” ‒ a lei de oferta e demanda é implacável no mundo livreiro. Pois bem, quem sabe a Carambaia tenha mais uma atitude de extrema bondade civilizacional e reimprima a obra. É mais do que um preciosismo de um amante de livros, creio ser antes uma questão de sanidade. Esse é um daqueles livros que um bom homem não pode morrer sem ler.
Leia mais em: https://www.gazetadopovo.com.br/ideias/kallocaina-a-distopia-desconhecida-que-inspirou-george-orwell/
Copyright © 2021, Gazeta do Povo. Todos os direitos reservados.
![]()


