Por
Carlos Ramalhete – Gazeta do Povo
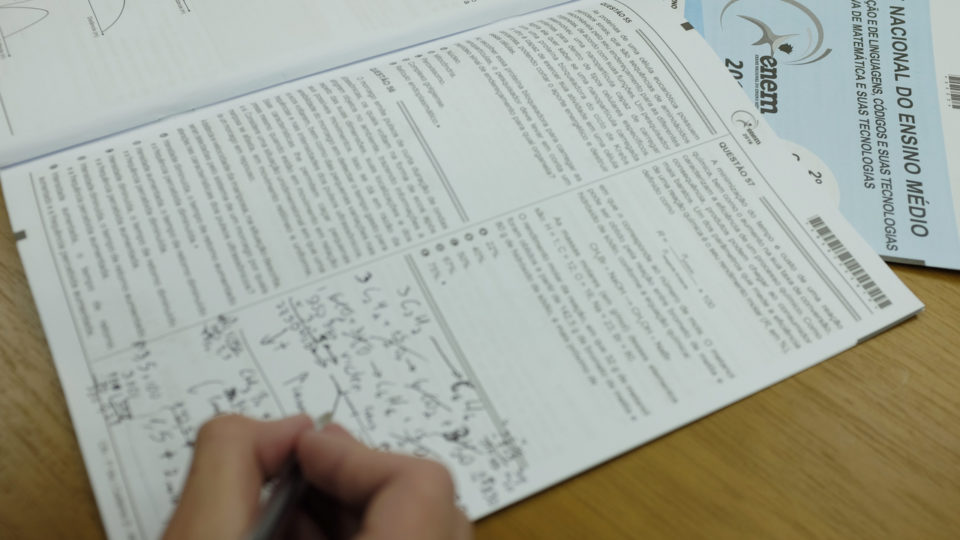
Incapazes de enfrentar o lobby da educação, MEC e presidente Jair Bolsonaro praticamente pedem desculpas diante de acusações de interferência no Enem.| Foto: Henry Milleo/ Gazeta do Povo / Arquivo
Cheguei a pensar em fazer o último Enem da era petista e o primeiro do bolsogoverno, para comparar as experiências. Creio que teria dado um bom tema pra uma coluna. Acabei deixando pra lá; afinal, a chance de haver qualquer mudança substancial na prova seria nula, de qualquer maneira. Só para começar, as questões do famigerado são sempre escolhidas dentre as já presentes num banco de questões concebido por educratas de esquerda. Substituí-las por outras exigiria uma transformação burocrática muito além da capacidade de um mero presidente. Mesmo assim, cada Enem nestes bolsoanos tem sido marcado por acusações de “interferência” vindas da monolítica esquerda midiática e acadêmica, como não poderia deixar de ser.
Não espero que a Nova Direita consiga entender, todavia, que o problema é muito mais grave que questões tendenciosas, ou mesmo o modelo da redação – que poderia ser resumido como “aponte uma intervenção estatal que poderia ser justificada pelo problema acima”. Não; o problema do Enem é algo que o próprio Enem aponta: um sistema supostamente educacional concebido com as piores intenções. A grande vantagem brasileira é que aqui até mesmo uma bem-azeitada máquina alemã consegue ser esculhambada de alto a baixo e transformada em mais uma coisa para inglês ver. É o caso.
Temos, então, uma espécie de emulsão cultural em que água e óleo se mesclam sem se misturar, tornando contudo a água venenosa e o óleo explosivo. Ao sistema de ensino moderno respondemos, inconscientemente mesmo, com esculhambação. A seus objetivos respondemos assoviando e olhando para cima. E assim uma máquina de transformar as pobres crianças e adolescentes em paus-mandados prontos para engolir qualquer imbecilidade que seja proferida por uma figura de autoridade torna-se, em Pindorama – como já batuquei aqui nestas mal-traçadas –, mero depósito de crianças. Apenas as escolas caras, de elite, têm sucesso na doutrinação e na negação dos talentos de seus alunos.
O problema do Enem é algo que o próprio Enem aponta: um sistema supostamente educacional concebido com as piores intenções
Curiosamente, quando a coisa começou, na Prússia, a ideia era fazer exatamente o oposto. E previsivelmente, em se tratando de alemães, funcionou direitinho por lá; tão direitinho que no século passado as máquinas genocidas nazista e comunista tiveram seus mais perfeitos sistemas implantados justamente nos territórios de cultura alemã. A ideia de base, como não poderia deixar de ser, foi mais um desses frutos venenosos do Iluminismo. No caso, Frederico o Grande, rei da Prússia, resolveu universalizar por seus territórios a escolarização, com o objetivo declarado de preparar bons soldados e bons operários. Ao fazê-lo, virou de cabeça para baixo o próprio sentido da palavra “educação”. Tal como “condução” significa “levar junto” e “abdução” significa “levar de algum lugar”, “educação” significa, ou deveria significar, “levar para fora”. Já nosso caro Fredão queria levar as crianças “para dentro”: para dentro da escola, primeiro, para que depois fossem sem reclamar para dentro de uma fábrica ou de um quartel.
Convém lembrar que se trata da mesma época em que Napoleão, com seus imensos exércitos de conscritos – jovens arrancados do seio da família para servir de bucha de canhão Europa afora –, estava, ele também, universalizando de uma certa maneira uma experiência estadocêntrica. As guerras sempre haviam sido, na Europa cristã, afazer apenas da nobreza. É claro que sempre sobrava para o mais fraco, e muitos membros do campesinato e do clero acabavam morrendo em tais aventuras. Nenhum deles, entretanto, corria o risco de ser forçado a fazer parte de um exército, justamente por não serem nobres.
Já na Era Moderna, acabou-se o pejo, e o sequestro de rapazes para aventuras militares tornou-se a regra. Da mesma forma, foi bem naquele tempo que começou a haver a concentração de renda e poder nas mãos da nova classe dominante burguesa que veio a permitir a Revolução Industrial. Fábricas e regimentos, regimentos e fábricas: para lá era do interesse dos governantes europeus conduzir a população que antes fora, na medida do possível, livre para cuidar da própria vida. O projeto de escolarização universal de Frederico, assim, tinha por objetivo imediato garantir que os rapazes forçados a “servir” em suas forças militares já chegassem ao quartel não apenas capazes de ler uma instrução ou fazer uma conta, mas também, e principalmente, acostumados a obedecer sem pensar. É para isto, mais que para qualquer outra coisa, que serve o modelo de escola que ele criou e que hoje temos em versão para inglês ver.
Afinal, convenhamos: praticamente toda a matéria escolar além dos primeiros anos é, na melhor das hipóteses, irrelevante para a maioria das crianças e adolescentes submetidos a tais fábricas de salsicha. Mesmo assim, não é por acaso que continue sendo obrigatório que a molecadinha permaneça na escola muito depois de já ter tirado dela o que lhes seria útil. É de pequenino que se torce o pepino, e enquanto o pepino não se conformar à espiral de parafuso do sistema ele é forçado a ficar ali. Usando a mesma roupa que todos os colegas de sala. Forçado a ficar calado horas a fio, com um pequeníssimo intervalo no qual – como qualquer outro ser humano – quererá falar com o colega que estava ao lado. Numa sala em que só o que há de comum entre os alunos é a idade, um dado perfeitamente irrelevante em termos de capacidade no mais das vezes. Com uma sineta pavloviana que o adestra para parar de pensar em algo imediatamente ao ouvir seu toque, por mais interessante que seja o assunto a abandonar, e passar a pensar noutra coisa que lhe mandam pensar. Sucedem-se os professores, cujo supremo desinteresse pela matéria que lecionam só é maior que o que porventura tenham pela missão de ensinar.
É bastante evidente, para quem tenha olhos para ver, que o objetivo de todos esses rituais não é garantir que os alunos decorem a fórmula de Báskhara – cujo uso, aliás, ignoram. Ao contrário; é um sistema extremamente bem construído, que visa uniformizar a cabeça das crianças como se lhes uniformiza o corpo, as ações, e tudo o mais que é o verdadeiro objetivo dos rituais. Não interessa qual seja a matéria de uma ou de outra disciplina (veja-se o nome…), mas interessa sobremaneira que os alunos aprendam a só pensar nela no tempo alocado. Não interessa o potencial do petiz, mas é crucial que ele aprenda a sentir-se bem apenas na companhia de quem pense e aja de maneira exatamente igual. Daí, aliás, o sinal de sucesso do processo que é ver os adolescentes odiando ou desprezando quem tenha outro gosto musical ou use roupas de outro feitio, fora da escola.
Da mesma maneira, coisa ainda mais fundamental é que eles sejam treinados para receber e aceitar o que o educador americano John Taylor Gatto chama de “pensamentos pré-pensados”. Todo o sistema visa criar cidadãos intercambiáveis, que não usem a própria cabeça, mas aceitem o que lhes é dito pela autoridade; que não tenham imaginação; que odeiem o diferente e, consequentemente, a diferença; que, em suma, estejam prontos para arregimentação ideológica e para participação ao modo de uma porca ou parafuso em empreendimentos que não entendem. O mais engraçado é que, tanto aqui quanto nos EUA, chama-se ironicamente “pensamento crítico” a tal aceitação passiva dos pensamentos pré-pensados pelos mestres, pela mídia etc.
Todo o sistema visa criar cidadãos intercambiáveis, que não usem a própria cabeça, mas aceitem o que lhes é dito pela autoridade; que não tenham imaginação; que odeiem o diferente e, consequentemente, a diferença; que, em suma, estejam prontos para arregimentação ideológica
A coisa funcionou terrivelmente bem na Alemanha, como escrevi acima. Os pensamentos pré-pensados por um cabo austríaco ou pelo Politburo soviético foram devidamente deglutidos e incorporados ao senso comum da população que, no começo do século passado, era a mais escolarizada do mundo. Nos EUA a coisa também foi bem longe, com as escolas públicas sendo há muito a regra e as particulares a exceção. Seria de estranhar que assim seja no país que passa por ser a vanguarda do capitalismo, até nos lembrarmos do simples fato de que mesmo em tal sistema os operários e soldados obedientes são requeridos em quantidade muito maior que os capitalistas. É bastante comum entre os grandes capitalistas americanos, aliás, ter abandonado a escola.
Mas Frederico não era bobo, e simultaneamente ao sistema acima descrito instaurou um outro, paralelo. Aquele – que se tenta importar aqui faz tempo – é a “baixa escola”, para os membros das classes inferiores da sociedade. Os filhos da nobreza e dos capitalistas, para o bem do sistema, no entanto, passavam por um sistema quase diametralmente oposto, o da “escola alta”. Lá aprendiam a pensar imaginativamente, a desenvolver ao máximo seu potencial, e tudo o mais que fosse garantir – como garantiu por muitas e muitas gerações – a preponderância de sua pátria nos campos de batalha e na economia mundial. Daí o curioso de no Brasil serem os filhos dos ricos que efetivamente passam pela “escola baixa”. Não que os dos pobres – ou quem quer que seja, ao menos institucionalmente – passem pela “escola alta”. Não; estes passam é por depósitos de crianças, onde o Estado finge que paga, os professores fingem que ensinam e os alunos fingem que aprendem.
O ideal prussiano foi adotado no Brasil indiretamente, com intermediação americana. Anísio Teixeira, muito mais que Paulo Freire, é o inspirador maior do sistema de escolarização brasileiro. Pois, após uma turnê pela Europa, apreciando os horrores da fonte original da escolarização em massa, ele foi aluno de John Dewey nos EUA e trouxe na mala as ideias prussianas que Dewey absorvera de seus mestres, formados diretamente por alemães. A “escola pública, gratuita, laica e obrigatória” pregada por Anísio Teixeira era eco da que tomou os EUA de ponta a ponta, por sua vez expansão ultramarina do modelo de Frederico.
A visão dos adeptos da versão mais avançada desse modelo no começo do século passado – incluindo aí os mestres de Anísio Teixeira em Columbia – era quase mecanicista. Os alunos eram percebidos como maleáveis quase ao infinito, os pais eram tidos por más influências, e a fábrica ou o regimento eram o destino certo de todos. Para medir o “progresso” da transformação de crianças vivazes em máquinas de obedecer aos superiores e odiar o diferente, nada melhor que testes padronizados. Afinal, uma padronização eficaz das mentes deveria resultar numa padronização dos resultados de tais testes. E foi daí que veio o Enem.
Não contavam eles, todavia, com a herança marrana brasileira, tão bem treinada em fazer uma coisa para inglês ver enquanto cuida de outra mais interessante. Nem, menos ainda, com a fixação de nossas elites supostamente intelectuais com o processo, em detrimento do resultado. O pragmatismo e o instrumentalismo de Dewey chegaram aqui e foram imediatamente substituídos por minuciosas instruções completamente desligadas da realidade. O resultado dos mecanismos de criar soldados e operários jamais puderam ser medidos, pela simples razão de que medir resultados não faz sentido para positivistas. Criou-se, em suma, um vasto sistema de processos que não levam a lugar algum, cópias delirantes para inglês ver dos processos utilitaristas dos americanos e dos prussianos.
A única exceção é exatamente onde seria mais necessário que houvesse um campo livre da ação da “baixa escola”: entre as elites. Criaram-se assim elites imbecilizadas, sempre ansiosas para aderir à última leva de pensamentos pré-pensados, sempre incapazes de imaginação criativa, sempre presas a mecanismos mentais fortemente inculcados desde a mais tenra infância. Daí os bairros mais ricos das capitais serem hoje os currais eleitorais da extrema-esquerda mais reducionista: só os filhos da elite foram adestrados para aderir a ideologias irracionais. No interior dos partidos de extrema-esquerda o mesmo ocorre, e o grosso dos quadros é de classe média para cima. Quando aparece a rara exceção de alguém com origens proletárias num tal partido (como o Lula), festeja-se-o tanto que ele acaba convencido de ser a última coca-cola do deserto.
Para medir o “progresso” da transformação de crianças vivazes em máquinas de obedecer aos superiores e odiar o diferente, nada melhor que testes padronizados
O próprio Enem, pelo que vi comentado por aí, foi cada vez mais se tornando uma prova em que nada se mede ou poderia se medir que não a capacidade de ficar sentado e manter ao menos um que outro neurônio funcionando depois de um massacre de imbecilidades textuais, seguidas de perguntas sem sentido. Não se tenta medir nem mesmo o que é medido pelos testes americanos equivalentes – que, diga-se de passagem, não são quase nunca empregados como critério único para determinação de quem pode ou não ser admitido numa universidade; quanto mais de elite a universidade for por aquelas bandas, aliás, menos importante é o resultado do teste. O Enem é simplesmente um mergulho na loucura coletiva dos educratas, no mundo de nonsense em que o que ali se pede teria algo a ver com o resultado de um processo educativo.
Com a ascensão do Enem, aliás, tornaram-se irrelevantes os vestibulares tradicionais. Estes ao menos ainda tinham alguma coisa a ver com as capacidades mínimas exigidas de calouros nos cursos desta ou daquela universidade; este é apenas uma prova de resistência. Nem mesmo as famosas “matérias” (que, como vimos, são meras desculpas no mecanismo original) são mais cobradas. Em outras palavras, uma pessoa com o fundamental incompleto, mas muito paciente e com hábito de leitura suficientemente arraigado para não gastar tempo demais a ler os textos, tem tanta ou mais chance de obter uma boa nota que um bom aluno de ensino médio.
Tudo, absolutamente tudo no nosso sistema escolar é para inglês ver.
Leia mais em: https://www.gazetadopovo.com.br/vozes/carlos-ramalhete/enem-para-ingles-ver/
Copyright © 2021, Gazeta do Povo. Todos os direitos reservados.
![]()


