Zerar o desmatamento é oportunidade para o Brasil recuperar relevância no debate internacional
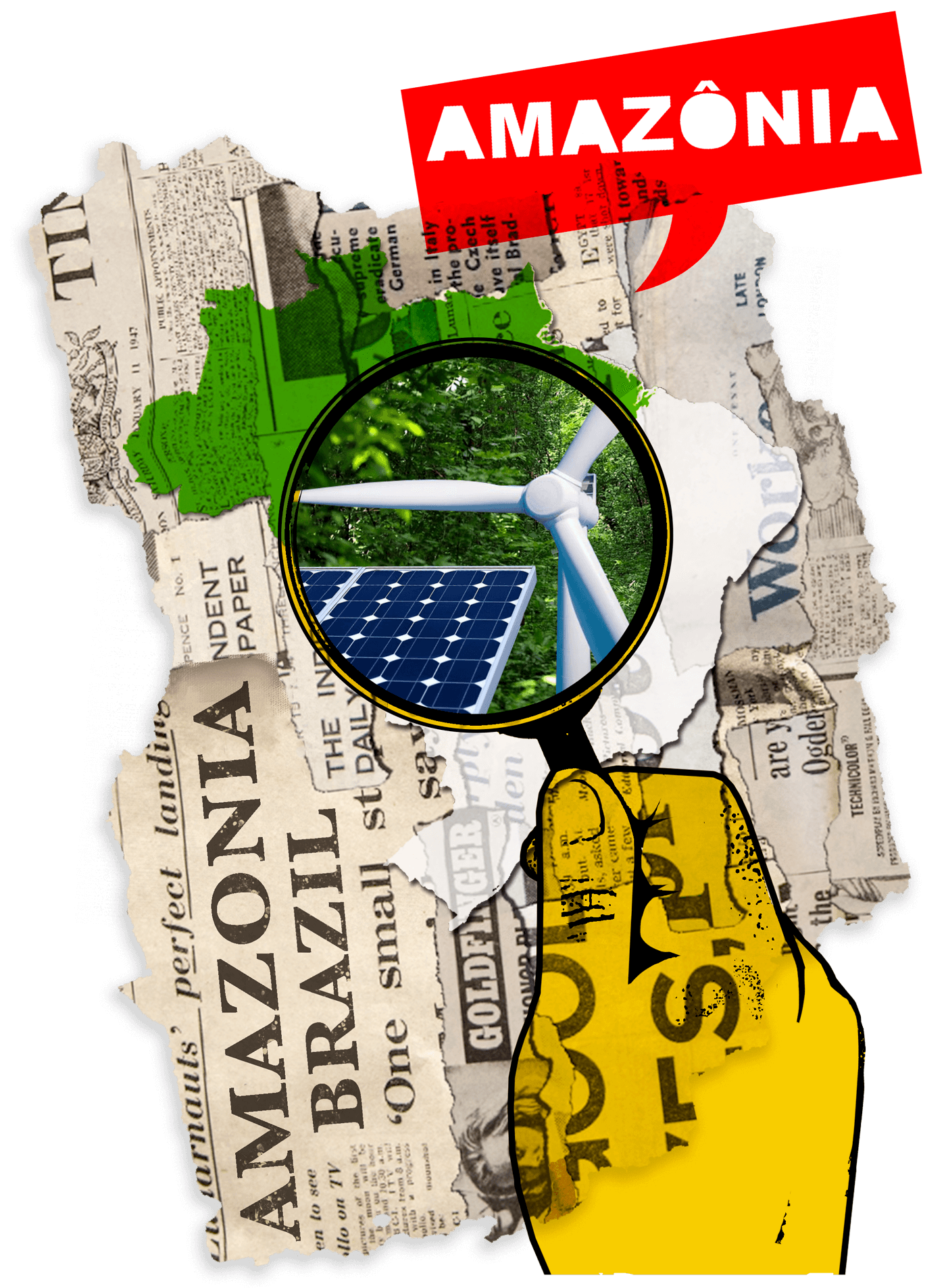
João Gabriel de Lima
ESTADÃO
A líder indígena Txai Suruí foi a única brasileira a discursar na abertura da Cúpula do Clima (COP) de Glasgow, em novembro. Sua fala não teve apenas valor simbólico. Marcou o ano em que a sociedade brasileira despertou para a mudança climática. Em 2021, ficou claro que ter voz forte no tema – o que pressupõe zerar o desmatamento da Amazônia, nosso grande ativo ambiental – é essencial para que o Brasil recupere relevância no mundo. Os jovens brasileiros e as populações tradicionais são os principais porta-vozes dessa ideia, que pode crescer em 2022 e chegar ao debate eleitoral.
Para a Economist Intelligence Unit, braço de estatística e consultoria da revista britânica The Economist, vivemos a era do “eco-despertar” – e o Brasil ocupa um lugar de destaque. Um dossiê sobre o assunto mostra que nosso país é o campeão mundial de abaixo-assinados sobre questões ambientais. A Coalizão Brasil, Clima, Florestas e Agricultura – que reúne cientistas, ambientalistas, empresários e líderes do agronegócio – foi considerada um exemplo de mobilização da sociedade civil em 2021.
Quando da publicação do dossiê, o pesquisador Tasso Azevedo, coordenador do projeto MapBiomas, disse ao Estadão que havia descompasso entre governo e sociedade – a The Economist lamentava a explosão do desmatamento e culpava o governo federal pelo resultado desastroso.
Tal descompasso se materializou na COP de Glasgow. O Brasil foi o único país a ter dois pavilhões na reunião: um patrocinado pelo governo e outro organizado por entidades da sociedade civil. Neste último, com audiência bem maior, marcaram presença cientistas como o próprio Azevedo, novas lideranças como Eduarda Zoghbi – aluna da Universidade Columbia (EUA) que ajudou a redigir um manifesto da juventude –, e representantes de entidades empresariais, como Marcello Brito, presidente da Associação Brasileira do Agronegócio (Abag).
A participação brasileira na COP representou uma vitória da sociedade civil sobre o governo – que, contrariando o próprio discurso e o que havia defendido na COP anterior (a de Madri em 2019), acabou assinando o Pacto Climático de Glasgow. Nele, o Brasil se compromete, entre outras coisas, a zerar o desmatamento.
Lideranças da sociedade civil já vislumbraram a oportunidade. “O Brasil tem vocação verde. Tem tudo para ser o grande líder do planeta nessa área. É uma oportunidade colossal”, disse o economista Armínio Fraga em evento em dezembro. Um mês antes, pouco antes de embarcar para Glasgow, Marcello Brito, da Abag, falava a uma plateia de especialistas: “No Brasil, política ambiental é sinônimo de desenvolvimento e inserção internacional”.
O cineasta João Moreira Salles escreveu numa reportagem especial sobre a Amazônia: “Um projeto de país digno do nome seria compreender essa riqueza e, a partir daí, transformar o Brasil naquilo que pouquíssimos países estão habilitados a ser: uma potência ambiental”. Se o Brasil zerar a devastação, dará contribuição significativa no combate à mudança climática, dado que o desmatamento é o principal responsável por nossas emissões de carbono.
E o Brasil não perde nada se deixar de desmatar, pois – diferentemente do que ocorre na Indonésia, por exemplo, onde a extração de óleo de palma gera divisas e empregos – não há atividade econômica importante que se beneficie do desmatamento. Essa é a conclusão de uma pesquisa coordenada por Juliano Assunção, professor de Economia da Pontifícia Universidade Católica (PUC) do Rio e um dos líderes do projeto Amazônia 2030, que está entre os principais levantamentos já feitos sobre o desenvolvimento na região.
“Na Amazônia não se cortam árvores para instalar agricultura ou pecuária relevante. Há só o desmatamento criminoso, que deve ser combatido”, disse Assunção ao Estadão na época da COP.
O Brasil tem outra vantagem importante na área. Quase metade (48%) da energia consumida no País vem de fontes limpas, como hidrelétricas. A média mundial é de 14% – a dificuldade de nações como China e Alemanha para se livrarem das fontes de carvão ilustra o drama de vários países ricos. Pela quantidade de vento – principalmente no Nordeste – e sol – no País inteiro – há oportunidades enormes de crescimento nas áreas de energia eólica e solar.
“A Alemanha é uma das líderes de desenvolvimento de tecnologia em energia solar, mas os pontos de sol mais importantes da Alemanha têm menos sol que os lugares menos ensolarados do Brasil”, afirma Juliano Assunção.
A transição energética será uma mudança radical. Poucos escreveram tão bem sobre o assunto quanto o checo Vaclav Smil, cujo livro Os números não mentem acaba de ser lançado em português. Num dos capítulos da obra, ele lembra que a última transição energética da história da humanidade durou dois séculos. Ela começou por volta de 1800, quando se obtinha energia queimando madeira e carvão vegetal, e durou até o final do século 20, com a arrasadora predominância dos combustíveis fósseis.
Nesse período, a economia cresceu, geraram-se empregos, a pobreza diminuiu – mas, no caminho, colocamos o planeta em risco. Já na Rio 92 começou a ficar claro que teríamos que perseguir a economia de baixo carbono.
De 1992 a 2017, a produção solar e eólica, lembra Smil, multiplicou-se, proporcionalmente, por nove – de 0,5% da energia gerada para 4,5%. No mesmo período, contudo, a participação dos combustíveis fósseis caiu apenas de 86,6% para 85,3%. Smil alinhava outras verdades inconvenientes. As energias solar e eólica são úteis na geração de eletricidade, mas a eletricidade representa só 27% do consumo de energia no mundo. Outras atividades essenciais – como a produção de ferro e cimento – ainda dependem dos combustíveis fósseis. O problema é que não haverá mais planeta se a transição atual durar outros 200 anos.
MUDANÇA GRADUAL
O americano William Nordhaus ganhou um Prêmio Nobel de Economia defendendo a tese de uma transição gradativa, porém célere, com participação ativa dos governos. Caberia aos países taxar os setores da economia que mais liberam carbono, nas áreas de energia, transportes e uso da terra, e investir o dinheiro na transição energética.
Trata-se precisamente do que a União Europeia vem fazendo nos últimos anos, notadamente agora na gestão de Ursula Van der Leyen. A presidente da Comissão Europeia tem martelado o slogan “o futuro será verde e digital”, mantra do Pacto Ecológico Europeu (“European Green Deal”), que prevê a neutralidade carbônica (saldo zero de emissões de gases) até 2050.
A União Europeia tem o principal ativo para perseguir um objetivo assim: dinheiro. Um terço da verba da reconstrução da economia depois da pandemia – cerca de 1,8 trilhão de euros – será destinada à transição energética.
Mesmo com dinheiro, nada é simples. Além da economia existe a política, como mostraram as eleições deste ano na Alemanha. Nunca o Partido Verde conseguiu tantos votos, principalmente dos jovens que seguem a sigla desde sua fundação em Karlsruhe.
No debate eleitoral, porém, os operários da próspera indústria automobilística da Baviera – que exporta Mercedes, Audi e BMW para a China – manifestaram incômodo com a meta incluída no Pacto Ecológico Europeu de reduzir drasticamente a produção de carros. Os candidatos do Partido Verde acenaram com as novas oportunidades da transição para a economia de baixo carbono, e com a conversão das montadoras tradicionais em fabricantes de carros elétricos. Nada apaga o fato, no entanto – lembrado por Smil em outra de suas verdades inconvenientes – que uma fábrica da Toyota, mesmo com a robotização do setor, gera muito mais empregos que um Google.
A transição para a economia de baixo carbono vai depender muito dos incentivos econômicos – que incluirão o mercado de créditos de carbono, finalmente regulamentado em Glasgow – e da capacidade de as democracias administrarem conflitos, como o que opôs operários e ambientalistas na Alemanha.
As oportunidades do Brasil se destacam nesse cenário complexo. Zerando o desmate, o País resolve, no curto prazo, sua contribuição para as metas de descarbonização. Haverá tempo para atacar alguns gargalos, como a excessiva dependência de transporte rodoviário. E para investir em oportunidades na transição, como as plantas solares e eólicas citadas por Juliano Assunção.
Não se pode, no entanto, esquecer do principal. 60% da maior floresta tropical do planeta – sem a qual não será possível cumprir as metas do Acordo de Paris, pacto de 2015 para frear o aquecimento global – se situam no Brasil. É a Amazônia que pode nos tornar novamente relevantes no cenário internacional. Para aproveitar a enorme oportunidade, temos – simples assim – de parar de desmatar. E, mais que isso, colocar a Amazônia, nosso maior ativo, no centro do debate político do País. Em ano eleitoral, é fundamental ouvir o que cada candidato tem a dizer sobre a floresta que define nosso lugar do mundo.
Floresta fica cada vez mais perto do ponto de não retorno
Ben Hur Marimon Junior
PROFESSOR DE ECOLOGIA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
A maior ameaça à Amazônia é a combinação de fogo reincidente e desmatamento em larga escala. Isso é resultado da aliança perversa entre mudanças climáticas e a falta de políticas públicas eficazes no controle do uso da terra, o que estimula práticas ilegais. As queimadas são os principais vértices deste processo, que vêm consumindo a floresta a taxas desesperadoras, nunca antes registradas. Em 2022 está previsto novo evento de El Niño, que causa secas e calor intenso na Amazônia. Por isso, podemos esperar pelo pior cenário em meados do ano que vem.
Sem controle legal adequado, as queimadas retroalimentam um círculo vicioso nas bordas da Amazônia, visto que, após um evento de fogo, o aumento da temperatura e da seca favorecem novos incêndios. O “efeito de borda” atinge áreas muito maiores do que as diretamente afetadas pela ação humana. Como consequência, as florestas remanescentes se degradam a um ponto sem volta, que avança mais e mais a cada ano, sustentando ciclo crescente de degradação rumo ao coração da Amazônia.
Esta equação se completa pela alta nos preços internacionais das commodities agrícolas, o que estimula a abertura de novas áreas com novas queimadas na Amazônia, onde os preços das terras são atrativos. Mas não precisa ser necessariamente assim. O Brasil dispõe de tecnologias para multiplicar a produção rural sem derrubar nenhuma árvore, como a integração lavoura-pecuária, o plantio direto e a agricultura de precisão. É uma forma também de atender ao mercado internacional, que aperta cada vez mais o cerco contra produtos originados de áreas desmatadas.
É preciso reverter a política atual para a Amazônia e intensificar a fiscalização e o monitoramento em tempo real de ilegalidades, com sistemas de alerta, prevenção e combate aos incêndios. Ao mesmo tempo, devemos ter políticas públicas de financiamento especial ao produtor rural da floresta que já implementa práticas sustentáveis ou de novas tecnologias para aumento da produtividade.
Ou isso ocorre, ou se repetem grandes desastres, como o de 2019, quando desmatamento e queimadas destruíram as bordas da Amazônia Brasileira, apavorando o mundo.
Se ficar como está, estaremos cada vez mais perto do ponto de não retorno da Amazônia, que continuará se degradando das bordas para o centro. A floresta tem papel fundamental na regulação climática da América do Sul e indiretamente do resto do planeta.
O agronegócio do Brasil, principalmente do Centro-Oeste, depende das chuvas amazônicas, cada vez mais escassas por causa do desmatamento. Não se trata apenas de proteger preciosíssimo patrimônio natural e sua biodiversidade, mas também valorizar a economia brasileira. Afinal, desenvolvimento econômico e conservação da Amazônia são conceitos que devem andar sempre juntos.
![]()


