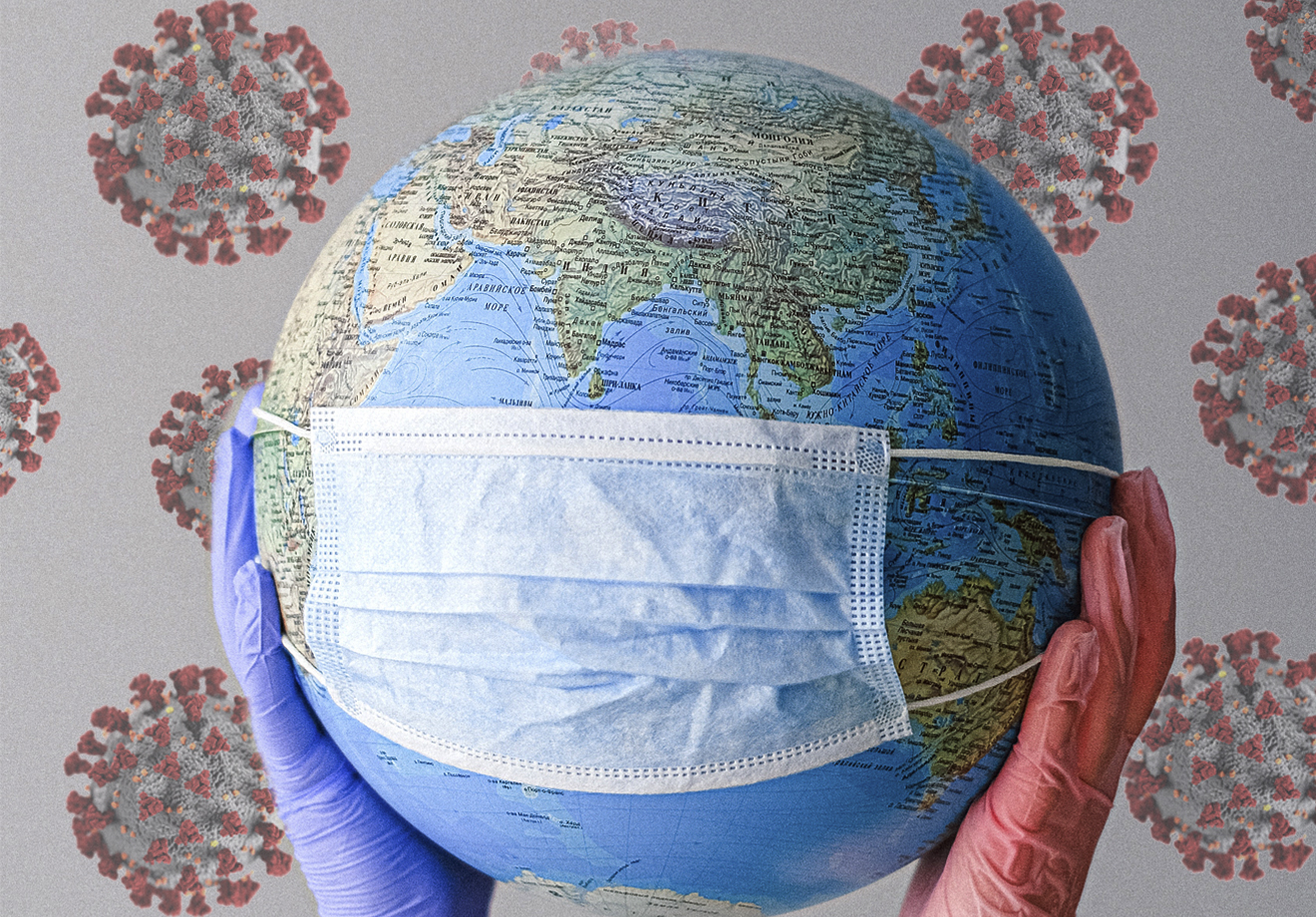Em entrevista a Retratos, médico fala sobre a experiência na epidemia de Aids, o papel de divulgador científico, analisa os impactos da Covid na nossa rotina e critica a gestão Bolsonaro na pandemia
Por LUCAS NEGRISOLI – Jornal o Tempo
.jpeg?f=3x2&w=1200&$p$f$w=b5f5cac)
Drauzio Varella afirma que alguns padrões da pandemia serão absorvidos para a rotina pós-pandêmica
“Os lugares mais quentes do Inferno estão reservados àqueles que escolheram a neutralidade em tempos de crise”. Foi esta citação torta de Dante Alighieri, feita pelo ex-presidente dos Estados Unidos John F. Kennedy, que, em 1985, fez acender em Antônio Drauzio Varella a chama do comunicador público que, hoje, é uma das figuras mais importantes da divulgação científica e da medicina no Brasil.
O trecho original do segundo livro de “A Divina Comédia”, “Inferno”, ao qual o chefe de Estado yankee fazia referência, contudo, narra, em italiano: “non furon ribelli né fur fedeli” (aqueles que não se rebelaram, nem foram fiéis a Deus, apodrecem na parte mais profunda do inferno). Drauzio não tem fé em Deus, mas, se dependesse da rebeldia, o oncologista escaparia do martírio cristão narrado pelo escritor italiano. PUBLICIDADE
Naquele dia, aos 42 anos, o médico participava de um congresso sobre a Aids em Estocolmo, na Suécia, quando a doença tinha começado a se tornar epidêmica em grande parte do mundo. A frase estampava um dos slides finais de uma das apresentações. Enquanto voltava para o hotel onde estava hospedado, Drauzio sentiu a angústia das palavras que, no futuro, um de seus netos poderia direcionar a ele.
“Ninguém falava nada da Aids no Brasil ainda, era tratada pela imprensa como ‘peste-gay’. Daqui a vinte, trinta, cinquenta anos, vou ter um neto, uma neta, que vai chegar para mim e falar: ‘vocês eram médicos, vocês iam a congressos, vocês sabiam o que estava acontecendo no mundo. Vocês não falaram nada para sociedade?’”, lembra.
Logo quando retornou ao Brasil, Drauzio escreveu um artigo sobre a doença para o jornal “O Estado de São Paulo” em que explicava o que era a doença. Pouco depois, em conversa com um jornalista, o médico falou sobre a vontade que tinha de divulgar as informações sobre a Aids no Brasil. O amigo gravou parte do bate-papo, e, em pílulas, o conteúdo foi divulgado na rádio nas semanas seguintes.
À época, “médico sério” não aparecia na imprensa, e Drauzio ligou perturbado para o jornalista. “Vai acabar com a minha carreira, vou ficar completamente desmoralizado diante dos meus colegas”, pensou. “Você está mais preocupado com o que seus colegas vão dizer de você ou com as informações que você quer passar para a população?”, rebateu o amigo, Fernando Vieira de Mello.
Não foi preciso mais do que isso para que o oncologista entendesse seu papel. “O médico do futuro tem que estudar, se preparar, trabalhar no hospital, nos consultórios, enfim, tudo. Mas ele tem que divulgar a medicina para a população”, defende.
Formado em 1967, há 54 anos, Drauzio Varella não é apenas um dos profissionais mais aclamados do país, seja pelo trabalho realizado em presídios, na atuação constante nos meios de comunicação ou pelo papel que teve na linha de frente da saúde brasileira, o médico contribui para moldar o que atualmente é a divulgação científica no Brasil.
Não à toa, seu próximo livro – sem nome, nem data de lançamento ainda – será algo como uma “biografia da medicina brasileira”. Apesar de o médico negar que se trate de uma autobiografia, certamente merece aparecer nas páginas como protagonista de grandes feitos nas últimas cinco décadas.
Nesta entrevista à Retratos, Drauzio Varella fala sobre a frustração de não estar no front de batalha contra a Covid-19, sobre as omissões do governo federal durante a pandemia, da carreira como médico e divulgador científico e sobre o futuro – com máscaras e distanciamento social – do mundo em meio à crise sanitária.
Há um trecho em “Estação Carandiru” que o senhor descreve como que foi entrar no presídio pela primeira vez. Existe algum paralelo com sobre essa passagem, esse momento da sua vida, com o que é entrar no hospital hoje, em meio à pandemia?
Naquela época, quando cheguei no Carandiru, em 1989, estávamos em plena epidemia de Aids. E não havia nenhum medicamento, havia o AGT, mas era um medicamento de pouca ajuda e os doentes cumpriam uma rotina de infecções oportunistas, complicações e morte. Então, nesse sentido, você tem uma semelhança com a situação atual. Lá, por exemplo, tinha enfermaria lotada de gente com Aids e sem condição, sem estrutura mínima para tratar desses doentes. A diferença é que agora nós temos essa estrutura mínima, que deu conta, com algumas exceções, da primeira onda da epidemia, mas foi completamente levada pela segunda onda.
Nesse sentido, existe uma certa semelhança. Eu digo certa porque essa doença é muito mais contagiosa do que a Aids, que é transmitida sexualmente ou por agulhas injetáveis, enquanto essa é transmitida por via respiratória, pelas gotículas que a gente elimina ao tossir, respirar etc. Então, a situação atual é muito mais abrangente, veja o número de mortes. Nós já chegamos aí, em um ano e pouco de pandemia, a mais de 400 mil mortes. Isso não aconteceu com a Aids nessa velocidade, de jeito nenhum.
É essa a relação que o senhor vê entre a epidemia da Aids em relação à Covid-19? A maior periculosidade [devido à facilidade de transmissão] do vírus?
Pensa o seguinte, o que nós tivemos naquela época que não temos agora? Nós tivemos uma coordenação central. O Ministério da Saúde, que na época era dirigido pelo José Serra (PSDB), que nem médico era, se cercou de técnicos muito competentes. O que que nós tivemos que fazer para combater a epidemia? Já tínhamos medicamentos altamente eficazes [contra a Aids], que controlavam a doença. Mas nós tínhamos que tratar todo mundo, todos os infectados do Brasil deveriam ser tratados. O argumento [contra] era muito simples: não tinha dinheiro.

Vi em conferências internacionais técnicos da Organização Mundial de Saúde (OMS) dizerem que não adiantava você dar medicamentos para populações de baixo nível educacional porque os esquemas eram complexos. Tinha gente que tomava dez, quinze, vinte comprimidos por dia, que eles não fariam o tratamento adequadamente e nós criaríamos uma epidemia de HIV resistente aos medicamentos que existiam.
Praticamente eugenista…
Praticamente. O Brasil provou que não era verdade. E fez o quê? O Ministério da Saúde assumiu o combate à epidemia. É sempre assim.
A DECISÃO DE COMBATER A EPIDEMIA É POLÍTICA, NÃO É TÉCNICA, NÃO SÃO OS CIENTISTAS QUE TOMAM ESSA DECISÃO, SÃO OS GOVERNOS QUE DEVEM TOMÁ-LA.
E aí, o Ministério assumiu para si a responsabilidade. Foram atrás das multinacionais, conseguiram descontos impressionantes, o preço dos medicamentos caiu para 10% do valor inicial, quebrou patente. Nós começamos a tratar a todos os brasileiros.
O que aconteceu? Na época, em 1995, a África do Sul e o Brasil tinham a mesma prevalência do HIV. A África do Sul não tinha os medicamentos que o Brasil distribuía. A África do Sul tem, hoje, 10% da população adulta infectada [pelo HIV]. Se fosse assim, nós teríamos aí uns 17 milhões, 18 milhões de brasileiros infectados. Temos 800 mil. Não estou dizendo que o número é pequeno, mas é incomparável. O Brasil provou duas coisas: primeiro, que era possível, sim, tratar a população toda; segundo, que, quando você reduz a carga viral a zero, você interrompe a transmissão [do vírus]. Se eu tenho HIV, tomo a medicação direitinho e minha carga viral cai pra zero, não infecto a minha mulher.
Foi um dado que ficou comprovado na experiência brasileira e os países da África, especialmente os países da África Subsaariana, passaram a receber os medicamentos pelas multinacionais baseado na experiência brasileira.
Desta vez, aconteceu o que? O que diziam todos os técnicos em relação à Covid-19? Como o vírus se transmite com essas características, você tem que se proteger usando máscara e se afastando. Não é isolando pessoas, não, mas se tem que conseguir o afastamento social, impedir que elas se aglomerem especialmente em lugares fechados. E qual foi a orientação do Ministério da Saúde? O oposto.
O próprio presidente da República, dando exemplo contrário, anda sem máscara, promove arrogantemente as aglomerações. A população passou a receber uma mensagem dupla. De um lado, alguém que diz: “olha, tem que usar a máscara e não aglomerar”. Do outro, as pessoas pensam: “pô, mas usar a máscara é chato, eu gosto de reunir minha família, churrasco em casa no fim de semana”. Aí o outro diz que pode fazer tudo isso, fica mais fácil. Além disso, temos uma população enorme, de milhões de brasileiros, que moram nas periferias das grandes cidades, que vivem em um estado de pobreza que não lhes permite ficar em casa, fazer o isolamento doméstico, porque precisam do dinheiro ganho no dia para poder se alimentar.
Há alguns países que têm população em situação econômica próxima ou pior a do Brasil, como Vietnã, que tiveram muito menos casos e menos mortes por Covid-19. O que poderia ter sido feito diferente na pandemia no Brasil em relação às políticas públicas? Ainda há tempo de reverter esse caos social que estamos, que parece que vai se prolongar pelo menos até 2022?
Veja o avanço que nós tivemos nas telecomunicações nos últimos anos, na última década especificamente. Internet, televisões, inúmeras estações, que você vê para tudo quanto é lado, no país inteiro. Você viu uma campanha oficial de esclarecimento em relação à epidemia? Uma única que o governo federal tenha tomado para dizer: “usem máscara” ou “evitem aglomerações”, ou, sei lá, qualquer coisa? Zero.
NUNCA ACONTECEU ISSO. NUNCA ACONTECEU DE NÓS TERMOS UMA AMEAÇA TÃO GRAVE À SAÚDE PÚBLICA E NÃO HAVER CAMPANHAS DE ESCLARECIMENTO.
Em relação ao uso da máscara, eu sei bem, porque a primeira propaganda na televisão, o primeiro comercial dizendo “use máscara” quem fez foi o Todos Pela Saúde, que é o grupo que administra a doação do Banco Itaú e do qual faço parte.
Tem cabimento uma iniciativa privada começar a explicar para a população que ela precisava usar máscara e, enquanto isso, as autoridades do país não tomam uma medida como essa, ao contrário, dão exemplos de comportamentos que, na verdade, são comportamentos para disseminar o vírus, não para contê-lo?
Se eu dissesse para você: “ó, Lucas, faz o seguinte, sai pela rua aí disseminando o vírus”. O que você faria? Você ia sair sem máscara e ia se aglomerar nos lugares fechados, em todos os lugares possíveis. Não é o que você faria? Para disseminar [o vírus], é isso. E foi isso que o governo federal fez. Isso custou muito caro ao país. Basta ver o número de vidas perdidas para a pandemia.
A população mais jovem é aquela que vem, proporcionalmente, mais sofrendo nos últimos meses, e, mesmo assim, a que mais promove aglomerações. Pessoas ficam nas ruas, nos botecos, em festas particulares. O que falta para população jovem compreender o momento?
NA PRÓXIMA EPIDEMIA, VAMOS ESPERAR QUE BAIXE UMA LEI FEDERAL QUE DIGA: “OLHA, ESTÁ PROIBIDO FALAR EM GRUPO DE RISCO”. ESSE TERMO TEM QUE SER BANIDO DO VOCABULÁRIO.
Porque o que acontece quando você define o grupo de risco? [Cria-se a ideia de que] se eu não faço parte dele, estou seguro. Aconteceu com a Aids, não foi? Falavam que os grupos de risco eram os homossexuais [do sexo] masculino e os usuários de droga injetável. Então, você pegava uma mulher, que não era homossexual masculino, que não usava droga na veia, ela achava que não corria risco nenhum. E se infectava com o namorado, com o marido.
Isso aconteceu claramente na epidemia de Aids. Agora, a mesma coisa. Quem são os grupos de risco? Homens e mulheres acima de 60 anos, aqueles com pressão alta, diabetes, obesidade. Quem não estava nessa condição pensou: “ah, não tem problema nenhum, isso aí é doença de velho, é de gente doente”. E aí vai para o bar, para a balada e fica aí descumprindo as normas editadas pelos governos, pelas prefeituras, ou pelos, pelos governos estaduais. O resultado é esse.
É um vírus que se transmite por via respiratória, passa de uma para outra. É lógico que se eu tiver uma saúde debilitada, seja pela idade ou por doenças concomitantes, eu vou correr mais risco de ter uma doença grave, mas isso não quer dizer que o outro não tenha o mesmo risco. Porque a imunidade varia de uma pessoa para outra. Eu tenho casos de um homem de 90 anos que teve Covid-19 superleve. Às vezes, até assintomática. Não é a regra, mas acontece.
Mas, por outro lado, você vê um rapaz ou uma moça de 30 anos, que não é obesa, que não tem pressão alta, não tem diabetes, não tem doença nenhuma, morrer na UTI. Por quê? São os desígnios do nosso sistema imunológico, que varia de uma pessoa para outra. Sim. Então, essa noção do grupo de risco é muito perniciosa. E ela que nos levou ao que estamos vivendo agora, com mais jovens infectados.
Houve vasto uso de uma fala sua, no início do espalhamento do coronavírus, quando nem se falava ainda em pandemia. Em vídeo publicado em janeiro de 2020, o senhor disse que a Covid-19 seria como um resfriado. Prontamente, você retificou a afirmação logo que que os casos foram aumentando, quando o cenário ficou mais claro. Contudo, isso é uma coisa que ainda é usada hoje como argumento por negacionistas. Foi usado, inclusive, indiretamente, em pronunciamento em rede nacional feito pelo presidente da República. Como que você vê a utilização política desse momento?
Foi um videozinho que fiz no final de janeiro do ano passado. Vamos lembrar que não havia nenhum caso de coronavírus no Brasil ainda, e eu errei. Errei como tantos, né? Anthony Fauci, que é a maior autoridade em doenças infecciosas nos Estados Unidos, tinha feito uma palestra dizendo exatamente isso: ‘Os coronavírus causam resfriados. Esse vai ser mais um desses coronavírus, a mortalidade não será maior do que nos casos de gripe’. Isso foi dito pelo Fauci, não por mim.
Veja como eram as coisas, a gente esquece do passado, né? No dia em que os italianos decretaram o lockdown nas cidades do Norte da Itália, na Lombardia, naquele exato dia, os espanhóis autorizaram uma comemoração ao Dia Internacional da Mulher, que reuniu 200 mil pessoas nas ruas centrais de Madri.
Os espanhóis eram vizinhos de porta da Itália e autorizaram uma concentração [de pessoas] nesse nível. Então, não havia informação, a doença até então só estava na China, não tinha chegado à Itália. Bom, tinha chegado, mas ainda não tinha se manifestado, principalmente nas proporções em que acabou acontecendo. Duas ou três semanas mais tarde, as UTIs italianas ficaram lotadas. E aí, nós tivemos notícia do que estava acontecendo, porque na China a informação não é de livre acesso. Fui o primeiro a reconhecer [o erro]. Falei: “olha, tive uma visão equivocada, acontece que essa doença é muito mais grave do que se imaginava”.
Só que a pandemia brasileira foi politizada. E aí, quando você vê o presidente da República, que parte para medidas de como fazer para disseminar o vírus, é preciso ficar tentando se livrar dessa responsabilidade. Como? Dizendo: “ah, não, mas olha aí, tiveram médicos que falaram que eram resfriados, que não ia passar disso”. Só que você tira isso completamente do contexto. Isso é usado de duas maneiras. Primeiro, para tentar invalidar tudo que eu disse e tenho dito depois, como estou dizendo para você, e, segundo, para aliviar a culpa do presidente da República, como se isso fosse possível.
É lógico que fico chateado de terem feito esse uso, mas eu tenho um desprezo tão profundo por essa gente, sabe… Eu dediquei minha vida, passei minha vida tratando de gente doente… e essa gente aí colabora para que as pessoas morram, para que as pessoas sofram. E, aí, querem se livrar dessa culpa? Me acusando, me atingindo? Bom, primeiro que é impossível me atingir, que diferença vai fazer para o país se eu fiz uma errada análise em janeiro do ano passado? Nenhuma.
Em segundo lugar, isso não diminui a culpa deles, de jeito nenhum. Eles são os responsáveis por grande parte das mortes. Não são os únicos responsáveis, claro que não.
MAS O GRANDE RESPONSÁVEL É O PRESIDENTE DA REPÚBLICA. POR QUÊ? PORQUE ELE É A AUTORIDADE MÁXIMA DO PAÍS, É DELE QUE TINHA QUE PARTIR O COMBATE, AS MEDIDAS DEVIAM E TINHAM QUE PARTIR DELE. NÃO O CONTRÁRIO, AS MEDIDAS DE DISSEMINAÇÃO DA EPIDEMIA.
O senhor tem uma obra de quase 60 anos de medicina e 40 como escritor e divulgador científico, sendo um dos primeiros a praticar este ofício em grande escala no Brasil. Agora, está preparando um novo livro. Conte um pouco sobre ele e sobre sua vida pública.
Olha, primeiro, em relação a esse papel de divulgação, de divulgador. Comecei isso na época da Aids. Em 1985, 40 anos atrás, estava em um congresso de Aids em Estocolmo, na Suécia. Era o começo da Aids no mundo. E, nesse congresso, um representante da Organização Mundial da Saúde, no final da apresentação, colocou um slide. Ele citava um trecho do “Inferno”, de Dante Alighieri, em que dizia, não lembro as palavras exatas, mas queria dizer o seguinte: “o mais profundo dos infernos está reservado àqueles que nos momentos de crise se abstêm”. E eu fiquei com essa frase na cabeça. Fui voltando para o hotel com essa coisa e disse, pô, é verdade, né? Mas ninguém fala nada da Aids. A doença era tratada no Brasil, pela própria imprensa, como a ‘peste gay’. Eu disse: ‘amanhã, daqui a vinte, trinta, cinquenta anos, vou ter um neto, uma neta, que vai chegar pra mim e falar: ‘pô, vocês eram médicos, vocês iam a congressos, vocês sabiam o que estava acontecendo no mundo. Vocês não falaram nada pra sociedade?’’.
Quando cheguei no Brasil, de volta, escrevi um artigo para “O Estado de São Paulo”, que foi publicado com grande destaque, uma página inteira chamada na primeira página e tudo, explicando o que era a doença. A partir daí, jornalistas começaram a me telefonar quando queriam informações e tudo mais.
Tinha um amigo, o Fernando Vieira de Melo, que dirigia a Jovem Pan, e eu passava às vezes na redação para conversar com ele, por outras razões ou por amizade, e contei essa história do congresso. Falei: “olha, essa doença tá acontecendo, acho que vai passar para as mulheres, que não há doenças sexualmente transmissível na medicina em que um sexo só seja infectado”. Ele falou: “Peraí. Vamos gravar essas coisas que você está me falando aqui”. Eu, na hora, gravei com a jornalista Maria Elisa Porchat uma entrevista longa.
Naquela época, médico sério não falava nos meios de comunicação de massa. Ninguém falava. Quando você via médico e meio de comunicação, quem eram? Eram cirurgiões plásticos, era o pessoal da estética, que aparecia nesses programas de auditório da TV, à tarde. A imprensa mesmo dava nenhuma importância para ter mais médicos em público naquele tempo. E o Fernando pegou essa entrevista e transmitiu. Passaram umas duas, três semanas, eu tô ali perto, da [Jovem] Pan, na Vila Paulista, e encontro um amigo. “Ah, eu vi uma entrevista sua”, ele disse. “Não, não tem não”, respondi. Falei há umas duas, três semanas. Meu amigo responde: “não, eu vi ontem”. “Como ontem? Tem certeza absoluta?. Mas será que tão reprisando a entrevista? Eu já estava com medo do patrulhamento dos meus próprios colegas, tendo dado uma entrevista, imagina repetir aquilo?”.
Aí fui até a [Jovem] Pan e falei com o Fernando. Ele me contou que dividiu a entrevista em fragmentos e estava rodando em pílulas na programação. Pensei, “putz, vai acabar com a minha carreira”. Eu vou ficar completamente desmoralizado diante dos meus colegas.
ELE FALOU UMA FRASE QUE ME PEGOU. “VOCÊ PRECISA VER COM O QUE ESTÁ MAIS PREOCUPADO, COM O QUE SEUS COLEGAS VÃO DIZER DE VOCÊ OU NAS INFORMAÇÕES QUE VOCÊ QUER PASSAR PARA A POPULAÇÃO”.
Fernando me pegou nessa frase, e eu comecei falar de Aids na Jovem Pan. No começo, enfrentei um patrulhamento muito chato, às vezes chateado com as coisas que diziam, etc, como se eu tivesse fazendo propaganda de mim mesmo. Não havia essa cultura de que uma das funções da medicina é de divulgar conhecimento para a população, para aqueles que não tiveram a oportunidade de estudar, como nós tivemos.
Entendi que isso tinha uma importância maior. Quando comecei na TV Globo, que aí a audiência ficou muito disseminada, tomei consciência de que esse era um trabalho muito importante. Esse é o papel do médico do futuro, o médico do futuro tem que estudar, se preparar, trabalhar no hospital, nos consultórios, enfim, tudo. Mas ele tem que divulgar medicina para a população.
Felizmente, hoje a gente vê grandes médicos, grandes cientistas, aparecendo nos programas de maior audiência de jornalismo, dando entrevistas e divulgando os conhecimentos tão importantes como os que estão sendo divulgados agora no meio dessa pandemia. O papel de vocês, jornalistas, tem sido crucial.Imagina se, em um momento como esse, nós não tivéssemos a imprensa divulgando esse conhecimento, chamando os médicos para falar, escolhendo os mais respeitáveis para se dirigir à população. Imagina o que seria, que tragédia seria?
Você sabe, fico muito orgulhoso quando vejo esses jovens, médicos jovens, de 30, 40 anos de idade, falando nos meios de comunicação e falando muito bem, com propriedade, com didatismo, com seriedade. Esse pessoal é que vai fazer a medicina do futuro, e não considerar a corporação médica como detentora dos segredos da medicina. Isso é coisa do passado, do passado remoto.
E o livro…
Em relação ao livro, eu escrevi “Estação Carandiru”, em 1999. Tinha 56 anos de idade quando o livro foi publicado e, quando saiu, fiquei assustado, uma repercussão enorme, páginas e páginas nos jornais, e o livro foi um sucesso absoluto de vendas, vendeu mais de 600 mil exemplares.
Depois disso descobri o prazer da escrita. Eu tinha esse prazer já, mas só escrevia coisas de medicina, livros técnicos ou artigos de divulgação científica. “Estação Carandiru” foi o primeiro livro e o fato de ter sido um grande sucesso me abriu a possibilidade de carreira literária. Tenho tido muito prazer em escrever sempre. Eu tenho que ter um livro em processo de escrita, porque, quando não tenho, fico meio infeliz. Eu não sou bom de ficção, não sou bom de fazer um romance, uma coisa dessas, sinto que seria um esforço que não sai naturalmente. Todos os meus livros são de não-ficção, com exceção de um livrinho infantil.

Nessa fase da vida, eu tô agora com 77 anos, eu queria fazer uma reflexão sobre o que aconteceu na medicina desde que eu me formei aos 24 anos de idade. O que eu aprendi na medicina? O que eu vi acontecer na medicina? O que, de que maneira, qual foi o impacto que a medicina teve na minha vida pessoal, na minha formação, na formação da minha personalidade, e o que aconteceu com o Brasil nesse período? Olha, se eu conseguir essas trilhas ao mesmo tempo, talvez eu consiga transcender essa questão de autobiografia, pela qual não tenho atração, e não queria escrever sobre isso de jeito nenhum, não interessa a minha autobiografia. Ela só interessa na medida em que o testemunho, as transformações que aconteceram, a medicina que eu faço hoje não tem nada a ver com aquela para a qual fui formado.
Deve ser legal se eu conseguir mostrar como foi evoluir naquela época em que nem vacinar as crianças se vacinavam. Hoje, no país inteiro, você não encontra uma criança que não tem acesso ao pediatra. Não tô dizendo que é fácil, pode ser complicado, pode, mas todas as crianças têm acesso. O Programa Nacional de Imunização é um dos maiores programas do mundo, se não for o maior, e isso é reconhecido internacionalmente. Preciso contar essa história. O que aconteceu? Por que as coisas foram assim? De que maneira a política foi interferindo na medicina no decorrer desse tempo todo? O livro tem essa pretensão.
É quase que uma biografia da medicina brasileira?
É, como se fosse isso. É uma ideia. Uma ideia para daqui a algum tempo, pode ser que alguém tenha curiosidade de ler, falar “olha, como era a medicina no século XX!”. O que aconteceu com ela nessa passagem pelas primeiras décadas do século XXI.
O livro já tem data de lançamento, nome, ou algo definido nesse sentido?
Não, ele nem está pronto ainda. Acho que dois terços do livro estão prontos, mas ainda tem muito chão. Escrever dá muito trabalho.
Em relação à Covid-19, você é uma pessoa que esteve na guerra por muito tempo. Há uma certa vontade de estar hoje no front ajudando? Como é para você, como se sente?
Muito frustrado. É muito dura essa sensação, porque eu sempre tive uma clínica muito movimentada, atendo em cadeias, estava indo para um hospital público, porque achei que nessa fase da vida eu devia parar com a clínica particular. Já fiz muito na vida, e quis ir para um hospital público dar aula para os residentes, discutir casos, enfim, ajudar a preparar mais gente para o futuro. E, além disso, tinha o trabalho nas cadeias que eu não deixo de fazer, que é medicina de guerra. Eu gosto dessa medicina.
E, DE REPENTE, EU NÃO POSSO MAIS IR À CADEIA, NÃO POSSO IR EM HOSPITAL PÚBLICO AINDA POR CAUSA DA IDADE… E ISSO ME DEIXOU COM A SENSAÇÃO, SEI LÁ, DE QUE NÃO PUDE PARTICIPAR MAIS, QUE FIQUEI ALIJADO.
Vamos ver agora com a vacina, se eu consigo voltar. Sinto muita falta mesmo, muita falta de estar nessa confusão, especialmente muita falta do trabalho na cadeia.
O trabalho na cadeia é uma medicina que é feita com as mãos, você não tem exames de laboratório, porque é difícil colher, não tem imagens, porque não consegue levar um doente da cadeia para o hospital para fazer um raio X ou uma tomografia. Você tem que fazer aquilo como? À moda antiga, com estetoscópio e mais nada. Tem que apurar o teu senso clínico, o sentido de como é que se faz medicina. É muito gratificante, muito. Por um detalhe, às vezes, você chegou a um diagnóstico sem auxílio de nenhum exame, de nenhuma imagem. É uma medicina muito mais difícil, é claro, mas ela dá muito mais satisfação também.
Ainda, você acaba convivendo com um universo que é radicalmente diferente do seu, que é o universo da pobreza. É o universo de pessoas que pegaram outro caminho, por vias que nem se sonha que pudessem existir. Estou na cadeia feminina agora. Você encontra histórias como a de uma menina de 8 anos de idade que fugiu de casa porque era estuprada pelo padrasto desde os 6 anos. Que realidade é aquela? Entra-se em contato com o Brasil ao qual ninguém tem acesso, mas que existe, tá aí, e faz parte do que nós somos. Então, acho que isso me dá uma visão ampliada do país em que eu vivo, e sinto muita falta da ausência dela.
Em artigo, o senhor chegou a dizer que trabalhar de casa, em home office, é “uma máquina de loucura”. Talvez um pouco relacionada a essa falta de contato com as coisas, com as pessoas. Apesar de não ser uma parte majoritária do país, mais pessoas estão trabalhando em casa e não tendo mais contato. Quais são as consequências disso?
Olha, apesar da idade, não tenho limitações. Eu trabalho como sempre trabalhei. Meu trabalho implica em viagens, vai pra baixo, vai pra cima, avião pra cá, avião pra lá. Vai pro Nordeste, volta [a São Paulo] no fim do dia. Fui sempre muito ativo e continuo assim até agora, não tive limitação. Então, quando se prende um animal libertário dentro de uma jaula, ele sente a diferença, é evidente. Tem um lado bom, você fica mais concentrado. Mas, por outro lado, esse trabalho doméstico é inviável. Isso é inviável. Primeiro, quem tem home office é quem ganha melhor. Não é por acaso que isso acontece. Então quem tem funções que dependem mais da parte intelectual.
Quem tá aí no trabalho, população, as caixas de supermercado, as balconistas de farmácia, o padeiro, que tem que estar na padaria às 5 horas da manhã, essas pessoas não tem como fazer isso.
Isso [home office] é pra nós, que depende de escrevermos, nós que vivemos do trabalho que pode ser feito em qualquer lugar, mas não é sensato esse tipo de trabalho [a longo prazo]. Olha, veja o que tá acontecendo com as mulheres que fazem home office. Veja se elas estão satisfeitas. Você mora num apartamento pequeno, às vezes, com dois moleques, um de cinco e um de três anos, endiabrados, pulando em cima do sofá e você tendo que resolver problemas, participando de uma reunião da sua empresa. Não é viável isso, é preciso equilíbrio. Acabamos tendo consciência que muitos dos trabalhos que nós fazíamos, muitos dos deslocamentos, eram desnecessários.
Eu lembro que, antes da epidemia, tinha a reunião do “Fantástico”, e eu ia ao Rio [de Janeiro] para uma reunião da pauta. Saía da minha casa, pegava trânsito para chegar no aeroporto, às vezes o avião atrasava, depois um trânsito enorme para chegar na Globo, depois a volta. Era um dia praticamente inutilizado por uma reunião que, às vezes, durava 40 minutos, uma hora. Está na cara que isso pode ser feito pela internet. Tudo bem, não tem o mesmo contato físico, não dá para tomar o cafezinho, conversar com os amigos, mas dá para fazer uma boa parte desse trabalho que a gente faz pela internet.
Mas ficar em casa trabalhando o dia todo é uma limitação do universo muito grande. Muito grande. Você perde o contato com a cidade. Perde o contato com as pessoas, o contato físico, e essa forma de comunicação [pela internet] é uma forma muito artificial. Por exemplo, tem cinco pessoas ali [em uma reunião online], há cinco olhando pra mim, eu olhando para elas, olho no olho. Esse contato, olho no olho, temos como manifestação de carinho, você não está acostumado a ter esse contato com pessoas que você mal conhece ou nem conhece. Já não é uma coisa natural.
Além disso, você está na tela olhando para você mesmo por um tempo longo. Até aqui, quando a gente olhava para si, era no espelho. Era assim que a gente se olhava. Agora, não. Você fica olhando para você, mas você não pode olhar pra você na tela, você tem que olhar para a lente [da câmera], porque senão fica com o olhar desfocado. Não é natural, não é verdade? Não é uma comunicação natural. Eu acho que nós vamos partir para um equilíbrio. Parte do trabalho vai poder ser feito em casa mesmo, mas outra parte vai ter que ser feito no no escritório, em contato com as pessoas.
Eu tenho 25 anos, faço parte dessa geração millennial, no corte do analógico para o digital. Assim como as gerações mais novas que a minha, cada vez mais os jovens têm adoecido com problemas como depressão, ansiedade, e, junto a isso, a discussão sobre saúde mental tem cada vez ganhando mais peso no debate público. Esse tipo de adoecimento é uma questão geracional? Ou, antes, não havia o diagnóstico, apenas?
Acho que são os dois motivos. Primeiro, porque, no passado, não se dava a menor bola pra isso. Pensa em uma mulher, uma menina, com a tua idade, 20 anos atrás. Nem tô falando 50 anos, mas 20 anos atrás, que um dia o metrô quebrou entre duas estações. ela teve uma crise de pânico, ficou mal. Isso era classificado como nervosismo, apenas. Hoje, se faz o diagnóstico e, se esse quadro começa a se repetir, você tem o medicamento, você trata, a medicina incorporou esse tipo de problema.
Meu pai tinha um primo que foi ficando triste, triste, triste… no fim, não comia, foi emagrecendo e morreu. As pessoas morriam de depressão sem saber que aquilo era depressão. Morria-se de “tristeza” mesmo. Às vezes alguém se suicidava, ninguém entendia, porque a gente nunca entende como uma pessoa chega a esse extremo, mas isso era tido como uma excentricidade. Imagina, o cara tirou a própria vida! Tinha até uma culpa do suicida no ato que ele cometeu. Então, acho que esse é o primeiro ponto: o diagnóstico. Para você se sentir doente, você precisa ter o diagnóstico. Você pode se sentir doente, mas para a doença ser aceita socialmente, tem-se que ter um diagnóstico. O diagnóstico é que cria o conceito da doença, do ponto social.
O segundo problema é que a geração de vocês está submetida a uma pressão que a minha não estava. Por uma razão: pela competição. Vou te dar três exemplos bem rápidos. Tenho um avô que migrou de Portugal. O pai dele era professor na aldeia e ele tinha uma caligrafia muito bonita. Ele veio para o Brasil, completou a maioridade, foi aceito em um cargo no Corpo de Bombeiros, que era uma coisa maravilhosa para um imigrante. Tinha um emprego oficial, um emprego com aposentadoria. Tudo porque ele tinha uma letra bonita. Porque, como não existia telefone na cidade, as notícias chegavam pelo telégrafo, em código Morse. “Há incêndio em tal rua”. Ele tinha que decifrar o código, escrever e passar a informação. E os outros tinham que conseguir ler a letra dele.
Só o fato de você ser bem alfabetizado e ter uma letra bonita te garantia um emprego bom. Com isso, ele teve a vida dele tranquila. Eu, com 18 anos de idade, entrei na faculdade de medicina, e o dono do cursinho me convidou pra dar aula. Aos 18 anos de idade, eu já ganhava mais do que o meu pai, e o que eu tinha feito? Tinha feito um vestibular, tinha entrado em uma boa colocação na faculdade de medicina da USP, que era a mais concorrida, e foi o suficiente para me dar uma carreira. Fui professor de cursinho por muitos anos, fundei um cursinho, e depois eu saí e fui para a medicina.
Hoje, você pega um menino recém-formado, o cara estudou nas melhores faculdades do país, fala inglês, conhece os programas fundamentais de computação, tem uma formação muito variada, fez mestrado, doutoramento às vezes, e está aí na disputa por um emprego.
Não consegue emprego, fica desempregado por muito tempo, é obrigado a aceitar um uma posição que é inferior à formação pela qual ele tanto lutou. Isso é uma causa de estresse permanente. Além disso, o consumo hoje é incomparavelmente maior do que o consumo naquela época, você é pressionado para trocar o celular a cada ano, a cada dois anos, um celular de três anos atrás como o meu é quase um tesouro. Joga fora, compra um celular novo. O consumo é uma pressão constante, e toda essa pressão vai gerando infelicidade, constrangimento. E se você não consegue resolver todos os setores da sua vida como você gostaria? Ou como os outros acham que você deveria, o que é pior ainda. Eu acho que essa pressão é que leva a esses quadros de ansiedade, depressão entre os mais jovens, infelizmente.
Em toda sua carreira, desde o início como professor de cursinho, passando pelo Carandiru, até os momentos mais recentes, o que você citaria como momentos mais marcantes?
Foi ter visto a epidemia de Aids. Eu estava, por coincidência, em 1983, chegando em Nova York, onde eu estava fazendo estágio em um hospital. Por coincidência, encontrei um amigo que morava lá há muitos anos, e que não via há tempos. Ele estava indo jantar com os brasileiros, e fui nesse jantar. Era um grupo de homossexuais, um jantar divertido, eles brincavam, falavam muito, enfim. Eles falaram da Aids: “Ah, isso, isso é coisa do governo”. Disseram que era conspiração do governo daquela época, que era conservadorismo. “Quem tem cabeça boa não pega esse vírus”, e outras besteiras do gênero.
E TIVE CONSCIÊNCIA, NAQUELE MOMENTO, E PENSEI: VAI ACONTECER UMA TRAGÉDIA NO BRASIL. SERÁ QUE SÓ EU TÔ VENDO ISSO? NÃO É POSSÍVEL.
Eu fiquei com essa sensação, e isso teve uma mudança, teve um impacto grande na minha personalidade.
O segundo, eu estava dentro do próprio Carandiru no dia do massacre. Não vi nada, é claro, mas naquele dia tinha saído uma hora antes de quando começou a confusão toda. Mas o que mais me chocou ali não foi aquela bestialidade, lógico, fiquei chocado como todos os brasileiros ficaram ao ver aquelas imagens todas. Mas o que mais me chocou foi a enfermaria de Aids depois. Você via uma pessoa com uma doença mortal, fatal, na fase final da evolução e trancada numa cela, e às sete horas da noite era, na rotina da cadeira, hora de trancar. E ficavam os doentes trancados, assim, morrendo ali e trancados nesse lugar. Transformou minha vida.
Outra experiência foi que tive um irmão, querido irmão, que era médico. Nós trabalhávamos juntos, e ele teve um câncer de pulmão que eu mesmo tratei. Por exigência dele. Aí pude viver essa situação dos dois lados. Que não é usual na prática médica. Não se trata de um doente, mas de um doente que, ao mesmo tempo, é uma pessoa muito querida a qual você é muito ligado, te dá a visão dos dois lados da medicina. Isso me marcou e moldou um pouco a minha forma de agir como médico depois.
Por fim, a experiência da comunicação, de você ser capaz de falar com o país. Tenho plena consciência disso, que me foi dada uma oportunidade que nunca um médico brasileiro havia tido. Oswaldo Cruz limitou o trabalho dele à cidade do Rio de Janeiro, que era ali que ele estava e era onde ele conseguia atingir, porque não havia outros meios. Tive acesso a uma emissora de televisão que atinge o país todo, com um programa domingo à noite, no horário nobre.
Durante a pandemia, o que mais te marcou nessas imagens da tragédia que o mundo e o Brasil viram?
Acho que as cenas de Manaus nesta segunda onda da epidemia foram as mais impressionantes. Tenho visto agora as imagens da Índia. Estive umas três ou quatro vezes na Índia. Tenho um pouco de noção do que é aquilo, que formigueiro que é. E você vê uma doença se espalhando desse jeito, no meio daquela população, que é onde a epidemia está pegando forte agora. Lembrar das pessoas vivendo em um cômodo, sabe? Mais de 50% não tem banheiro em casa, não é quem não tem banheiro com água encanada, que o banheiro fica no fundo, não. Não tem banheiro, e esvaziam os intestinos nas ruas. É um problema grave de saúde pública. As mulheres têm que acordar muito cedo, de madrugada, para usar o banheiro, enquanto não há homens na rua ainda. É uma situação de saúde pública tenebrosa.

O que você acha essencial ter contato em 2021?
Essencial mesmo é atividade física. Você está tendo dor nas costas? Lucas, seja honesto.
Tenho.
Pô, 25 anos, é idade para ter dor nas costas? Que absurdo isso. Nunca tive dor nas costas na vida. Agora, com a idade, tenho às vezes, tenho que fazer alongamento e tal, porque fica me doendo as costas. Nós passamos o dia sentado, se a gente bobear, e isso é péssimo para o corpo. O corpo humano é uma máquina que foi feita para o movimento, não foi feita para ficar parada. Então, antes de pensar no livro que você precisa ler, no filme que você deveria assistir, não assistiu, nós temos que pensar no corpo. O corpo é mais importante do que o intelecto. As pessoas invertem a ordem. Sem o corpo, você não tem parte intelectual. Você não tem nada, não é?
Em segundo lugar, acho que a leitura é fundamental. Mais fundamental do que as séries de televisão e tudo, porque no cinema, nas séries, a tua posição é passiva. No livro, a interpretação do que você está lendo fica a teu cargo. Então, o papel é muito mais ativo enquanto você está lendo, você vê imagens, você vê cidades que você nunca conheceu, ouve vozes, quando se descreve um cheiro, você até sente esse cheiro. O livro ativa todos os sentidos.
Mais alguma coisa a dizer?
A única coisa a mais que vale a pena dizer é o seguinte: a gente tem que entender que esse vírus veio pra ficar, vai ficar por aqui por muito tempo. Quanto? Não tem como prever o futuro, mas ele vai ficar. Isso vai nos obrigar a mudar hábitos.
A MÁSCARA VAI SER INCORPORADA AO VESTUÁRIO. DA MESMA FORMA QUE VOCÊ NÃO TIRA A CAMISETA QUANDO VAI PARA A RUA, COM A MÁSCARA SERÁ A MESMA COISA.
Vai ser uma ótima medida de higiene fundamental. Com isso, vai diminuir a incidência de resfriados, gripes, se usarmos a máscara com sabedoria.
Você está andando sozinho na rua, não tem ninguém por perto, abaixa a máscara, não tem nenhum problema. Ou está em uma calçada e passa uma pessoa na outra, não precisa de máscara nessa hora. Agora, se a pessoa atravessa e vem na sua direção, você tem que ter a máscara e ela também. A máscara é a principal forma de proteção contra a Covid-19, e ela tem que ser incorporada ao nosso dia a dia. Enquanto houver casos de infecção pelo coronavírus, nós vamos ter que usar a máscara.
![]()